Cotas raciais são legítimas com parâmetros razoáveis
25
abril 2012 - Direito à educação
1. Trata-se de consulta formulada pelo
Instituto Educafro – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, por
intermédio do Frei David, acerca da constitucionalidade das políticas de cotas
reservadas para o acesso ao ensino superior em universidades públicas
brasileiras. O estudo que se segue, desenvolvido de forma objetiva, pretende
apresentar os fundamentos constitucionais mais relevantes para o equacionamento
da matéria em caráter geral, com referências específicas aos dois modelos
normalmente praticados: o de cotas raciais combinadas com critérios
socioeconômicos e o de cotas puramente raciais. A questão encontra-se posta
perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 186 e do RE 597.285, ambos
sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski [3].
2. Já se pode adiantar que a conclusão
apurada é no sentido de ser válida a instituição de políticas de reserva de
vagas nas universidades públicas desde que sejam observados critérios e
percentuais razoáveis, aferidos a partir de dados empíricos. É o que se passa a
demonstrar.
II.
O direito fundamental à igualdade sob múltiplos pontos de observação
3. Como é de conhecimento corrente, as
ações afirmativas em geral e a reserva de vagas para ingresso no ensino
superior em particular são políticas públicas voltadas para a efetivação do
direito à igualdade, em suas diferentes dimensões [4]. Curiosamente, os opositores desse tipo
de medida costumam invocar precisamente o direito à igualdade e argumentos a
ele conexos para justificar sua posição. Nada obstante isso – e revelando a
complexidade da matéria – muitos dos críticos das ações afirmativas reconhecem
como fato a existência de preconceito racial no Brasil, em maior ou menor
proporção, e até mesmo os seus reflexos negativos sobre a formação dos
estudantes e suas chances de acesso às posições sociais mais elevadas. Apenas
não creem que esta seja uma política desejável e/ou compatível com a
Constituição.
4. Esse tipo de dualidade é própria dos
conceitos jurídicos de textura aberta, como a igualdade de todos, e revela um
fenômeno relativamente comum na sociedade contemporânea complexa: a
possibilidade de que um mesmo problema ou uma mesma situação sejam observados a
partir de múltiplos pontos de vista. Sem prejuízo dessa constatação, o cenário
descrito já fornece pelo menos uma conclusão relevante. No Brasil de hoje, não
se discute a sério a existência de uma desigualdade material a ser corrigida;
discute-se o meio adequado para enfrentá-la. No caso dos processos que serão
objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, o que se discute é ainda
mais específico: a constitucionalidade da opção em favor das cotas, efetuada
pelo legislador ou pelas próprias instituições de ensino superior no exercício
de sua autonomia. Para avaliar a validade dessa opção política, é preciso tecer
algumas considerações sobre o princípio da igualdade, ainda no plano teórico.
5. A Constituição Federal de 1988
consagra o princípio da igualdade e condena de forma expressa todas as formas
de preconceito e discriminação. A menção a tais valores vem desde o preâmbulo
da Carta, que enuncia o propósito de se constituir uma “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. O art. 3º
renova a intenção e lhe confere inquestionável normatividade, enunciando serem
objetivos fundamentais da República “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
O caput do art. 5º reafirma que “todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”. O constituinte incluiu, ainda, menções
expressas de rejeição à discriminação contras as mulheres [5] e de condenação ao racismo – essa última
com especial intensidade [6] –, além de determinar a punição de
qualquer discriminação que atente contra os direitos fundamentais [7].
6. Tal conjunto normativo é
explícito e inequívoco: a ordem constitucional não apenas rejeita todas as
formas de preconceito e discriminação, mas também impõe ao Estado o dever de
atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio e na redução das
desigualdades de fato [8]. Na terminologia que se tornou corrente,
a Constituição protege tanto a igualdade formal quanto a igualdade material. Em
tempos mais recentes, incorporou-se ao discurso constitucional também a ideia
de igualdade como reconhecimento. Esses três conceitos operam em sinergia para
realizar, de forma plena, a ideia de igual respeito e consideração.
7. A igualdade formal, que está na origem histórica
liberal do princípio, impede a hierarquização entre pessoas, vedando a
instituição de privilégios ou vantagens que não possam ser republicanamente
justificadas. Todos os indivíduos são dotados de igual valor e dignidade. O
Estado, portanto, deve agir de maneira impessoal, sem selecionar indevidamente
a quem beneficiar ou prejudicar. A igualdade material, por sua vez, envolve aspectos mais complexos, uma vez que
é associada à ideia de justiça distributiva e social: não basta equiparar as
pessoas na lei ou perante a lei, sendo necessário equipará-las também perante a
vida, ainda que minimamente [9]. A igualdade
como reconhecimento destina-se a proteger o direito à diferença, os grupos
vulneráveis e as minorias em geral, sejam raciais, religiosas ou de orientação
sexual.
8. Por conta dessa tripla
dimensão, seria simplista afirmar que toda e qualquer desequiparação entre
indivíduos seria inválida. Pelo contrário, legislar nada mais é do que
classificar e distinguir pessoas e fatos, com base nos mais variados critérios [10]. Aliás, a própria Constituição institui
distinções com base em múltiplos fatores, que incluem sexo, renda, situação
funcional e nacionalidade, dentre outros. O que o princípio da isonomia impõe é
que o fundamento da desequiparação seja razoável e o fim por ela visado seja
legítimo [11].
9. No caso das políticas de
reserva de vagas nas universidades públicas, o fundamento mais geral de
proteção da igualdade costuma ser decomposto em três vertentes: (i) reparação
histórica; (ii) justiça distributiva; (iii) promoção da diversidade [12]. É possível identificar uma interação
recíproca entre tais elementos, o que não exclui sua autonomia. Nesse sentido,
o fato de se ter concedido a determinados grupos tratamento iníquo em
determinado período da história pode ser tomado como fundamento para que se
conceda reparação no presente ou como explicação das desigualdades hoje
verificadas, que justificam medidas de justiça distributiva. Essa segunda linha
– que se afigura menos problemática – deixa de lado investigações pouco
consistentes acerca da noção de culpa pessoal e enfoca no fato da desigualdade, que, levado a determinado nível, passa a
exigir ou justificar a adoção de medidas corretivas [13].
10. Por fim, essa mesma
desigualdade de fato produz uma subrepresentação de determinados segmentos nas
posições de maior prestígio e visibilidade sociais, o que pode acabar
perpetuando ou retroalimentando um estigma de inferioridade. De forma ainda
mais concreta, é notório que a escolaridade e as perspectivas dos pais exercem
um papel relevante na formação dos filhos. Nesse contexto, as ações afirmativas
podem ser justificadas também como medidas de promoção da diversidade,
destinando-se a abrir espaço para a ocupação de posições destacadas por parte
de segmentos tradicionalmente excluídos e o consequente rompimento desse
círculo vicioso [14]. Em contextos nos quais a desigualdade
tenha se institucionalizado, a defesa da igualdade formal absoluta acaba se
confundindo com a defesa do status quo e,
por isso mesmo, dificilmente poderia ser compreendida como medida neutra, quer
sob a perspectiva política, quer sob o ponto de vista moral.
11. Não é necessário concordar com
todas essas vertentes – ou mesmo com qualquer delas – para admitir que possam
constituir justificativa razoável para a decisão política de se instituir um
sistema de cotas. Esse é um ponto que deve ser enfatizado: não se cogita, aqui,
da imposição da reserva de vagas em universidades como providência obrigatória
que pudesse ser extraída diretamente da Constituição. O que se discute nas
ações submetidas ao crivo do STF é a validade desse tipo de política,
determinada pelo Legislador ou pela administração universitária. Para tanto,
basta verificar se há elementos empíricos e fundamentos que confirmem a
existência da desigualdade e tornem a política aceitável. Como referido inicialmente, o fato da desigualdade e a
importância de que ele seja combatido costumam ser reconhecidos até mesmo pelos
críticos do sistema de cotas, de modo que não parece necessário enveredar por
uma demonstração dessa circunstância. Em vez disso, será mais proveitoso
analisar objetivamente os principais argumentos empregados para desqualificar a
reserva de vagas em universidades como opção política legítima.
III.
Os argumentos contrários à política de cotas
12. É possível identificar, no
debate público e nas ações propostas perante o Supremo Tribunal Federal, três
argumentos principais contra a validade da reserva de vagas em universidades:
(i) inexistência de racismo no Brasil, onde as desigualdades teriam fundamento
socioeconômico; (ii) impossibilidade de se identificar negros e pardos por meio
de critérios objetivos, dada a miscigenação predominante na sociedade
brasileira; (iii) violação ao princípio da proporcionalidade. Veja-se um
comentário sobre cada um deles.
III.1.
Inexistência de racismo no Brasil e predomínio das desigualdades
socioeconômicas
13. Nesse ponto, os opositores do
sistema de cotas retomam a ideia de que o Brasil seria uma democracia racial, de que haveria uma identidade nacional
compartilhada pelos brasileiros em geral e que não seria definida a partir da
cor da pele [15]. Em uma versão mais sofisticada, a
democracia racial é tomada como mito, mas em sentido positivo, na medida em que
funcionaria como uma espécie de ideal normativo compartilhado, capaz de impor
freios sociais aos comportamentos ostensivamente discriminatórios. Com o
respeito devido e merecido, ambas as formulações tratam a desigualdade com
displicência.
14. Em primeiro lugar, sem qualquer
pretensão de acirrar polêmicas, é preciso fazer um registro teórico: a tese de
que inexistiria racismo no Brasil é uma visão relativamente superada e que
chega a contrariar o senso comum. A Constituição de 1988 foi especialmente
enfática no combate à discriminação racial justamente por ser essa uma
realidade amplamente conhecida, ainda que muitas vezes permaneça velada sob a
cultura brasileira do homem cordial [16].
São igualmente frequentes as notícias sobre ocorrências de racismo, em todas as
esferas sociais. O fato de o racismo no Brasil não assumir a mesma proporção e
não ter levado à mesma radicalização verificada em outros países não deve
servir de pretexto para que a sua existência seja negada.
15. A segunda vertente
identificada acima assume a existência de manifestações de preconceito, mas
defende que o mito da democracia racial é benéfico e deve ser cultivado para
que a realidade seja progressivamente aproximada dessa idealização [17]. Nesse ponto, mesmo sem negar as
eventuais vantagens de uma cultura que rejeite o preconceito ostensivo, não
parece muito consistente invocar deliberadamente um mito como impedimento a que se adotem medidas destinadas a tornar a
realidade concreta mais justa para as pessoas que vivem o tempo presente [18]. Esse tipo de argumento, ainda que fosse
aceitável, parece se situar naturalmente no domínio das avaliações de
conveniência e oportunidade, não no plano das violações à ordem constitucional.
O mesmo deve ser dito em relação ao argumento de que as ações afirmativas
poderiam criar um Estado racializado
e romper com a harmonia entre os diferentes grupos sociais – isto é: a harmonia
do status quo. Cerca de dez anos após
o início desse tipo de política, a tese sequer parece encontrar suporte na
realidade [19].
16. Em segundo lugar, e
abandonando a discussão puramente ideológica e de conveniência política, é
preciso verificar a consistência do argumento de que o preconceito racial teria
sido absorvido pelas desigualdades socioeconômicas [20]. Por esse raciocínio, as cotas para
negros e pardos adotariam um fator de desequiparação aleatório – tendo em vista
a realidade brasileira –, e acabariam constituindo discriminação contra os
brancos pobres e benefício indevido para a classe média negra. Nesse ponto, a
primeira constatação que se impõe é a existência de um argumento forte em favor
da constitucionalidade das cotas baseadas em critérios socioeconômicos. Em
verdade, a maioria dos programas já implementados no Brasil adota também esse
critério, ainda que em combinação com outros elementos, sendo essa uma opção
política legítima.
17. Isso não significa, porém, que
o legislador esteja proibido de adotar um critério racial, ainda que de forma
exclusiva, sobretudo quando se admita que as ações afirmativas possam
desempenhar, legitimamente, o papel de promover a diversidade. Com efeito,
existem dados e estudos que atestam a existência de um preconceito relacionado
à cor da pele e às origens sociais, o qual produz dificuldades adicionais para
a inserção dos negros em determinadas esferas, tanto no nível prático [21] como no plano da autopercepção [22]. A existência de correntes que
questionam a confiabilidade desses dados ou a interpretação que lhes é
atribuída não desqualifica, a priori,
a sua pertinência no debate público. Em uma democracia, todas as ideias devem
ser passíveis de questionamento, mas disso não se extrai que o legislador só
esteja autorizado a atuar com base em consensos absolutos. A prevalecer essa
tese, poucas políticas públicas ficariam de pé.
III.
2. Impossibilidade de se identificar negros e pardos por meio de critérios
objetivos, dada a miscigenação predominante na sociedade brasileira
18. Antes de ingressar
propriamente no ponto, é preciso reiterar uma ressalva que se tornou corrente.
Não existem raças humanas sob o ponto de vista genético. As diferenças que
separam brancos e negros no aspecto do genótipo são insignificantes e puramente
superficiais. Como é natural, essa descoberta significativa da ciência não
acabou com o racismo enquanto fenômeno social; apenas serviu para deixar ainda
mais claro o quanto essa forma de menosprezo ao outro é cruel, arbitrária e
autointeressada. Essa questão já foi objeto de manifestação por parte do
Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a ideia de que a inexistência biológica
de raças humanas teria tornado insubsistente o racismo e as demais formas de
preconceito baseado no fenótipo ou em fatores correlatos [23]. Feita a observação, retome-se o ponto.
19. É fato que a definição de
critérios objetivos para identificar os beneficiários de eventuais programas de
cotas esbarra em dificuldades variadas. Dentre todas as opções, a que parece
menos defensável é o exame do genótipo, uma vez que o preconceito no Brasil
parece resultar, precipuamente, da percepção social, muito mais do que da
origem genética. A partir desse ponto, porém, a eleição de determinado critério
parece envolver avaliações de conveniência e oportunidade, sendo razoável que
sejam levados em conta fatores inerentes à composição social e às percepções
dominantes em cada localidade. O sistema da autodeclaração, que tem sido
adotado com maior frequência no país, apresenta algumas vantagens, sobretudo no
que concerne à simplificação dos procedimentos e ao fato de se privilegiar a
autopercepção. Há, todavia, problemas associados a esse modelo. Em especial, o
risco de oportunismo e idiossincrasia, que poderia levar ao parcial
desvirtuamento da política pública. Por outro lado, o sistema de avaliação do
fenótipo – das características exteriores do organismo – procura reduzir esse
risco, mas abre um flanco relevante para as críticas de que seria
excessivamente subjetivo e levaria o Estado a impor rótulos sociais.
20. Apesar das imperfeições de
qualquer modelo real, não parece razoável invocar as dificuldades operacionais
para invalidar a própria possibilidade de se adotar ações afirmativas. Em
rigor, seria desalentador e até mesmo contraditório afirmar que a sociedade é
capaz de constatar a desigualdade e produzir estatísticas detalhadas a respeito
da matéria – utilizadas por ambos os lados do debate –, mas seria incapaz de
criar critérios para lidar com o problema. Seria mais ou menos como espalhar
clínicas de diagnóstico pelo país, mas abrir mão das tentativas de prevenção e
cura. Adicionalmente, a dificuldade de classificar pessoas não é exclusiva
desse domínio e nem por isso é invocada como argumento para a inércia estatal
obrigatória. Critérios igualmente complexos como capacidade contributiva, hipossuficiência,
culpabilidade, notório saber e especialização, dentre muitos outros, são
empregados cotidianamente para diferenciar pessoas, tanto para reconhecer
vantagens quanto para impor encargos e sanções.
21. Por motivos variados, a ordem
jurídica reconhece a necessidade de se valer de tais critérios. O fato de não
ser possível utilizar parâmetros inteiramente objetivos ou neutros – atributos
que poucas normas poderiam reivindicar – não é razão suficiente para que o
Poder Público seja proibido de adotar medidas para a proteção de bens jurídicos
de especial relevância, inclusive direitos fundamentais. No caso específico das
políticas de cotas, a experiência brasileira registra exemplos da adoção de
ambos os critérios descritos e, a par de discrepâncias pontuais, não parece que
haja uma percepção de que os sistemas seriam aleatórios ou incapazes de
produzir o efeito a que se destinam.
III.
3. Violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade
22. O terceiro conjunto de
argumentos contrários à política de cotas – que retoma parcialmente questões já
analisadas – envolve as alegações de que haveria violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade.
A investigação é pertinente e, em última instância, deverá ser feita a partir
das características de cada modelo in
concreto. O que se fará no presente tópico é analisar se a própria ideia da
reserva de vagas nas universidades seria, em si mesma, irrazoável ou
desproporcional.
23. Nesse sentido, convém iniciar
pela seguinte consideração geral, destacada igualmente em parecer da
Procuradoria Geral da República: as opções legislativas devem ser preservadas,
a menos que seja possível identificar uma causa real de invalidade [24]. Em outras palavras, ao apreciar a
constitucionalidade de determinada ação afirmativa, não caberá ao Poder
Judiciário avaliar se essa seria a melhor
forma de equacionar os interesses envolvidos, muito menos desprezar os
dados empíricos em que haja se baseado a decisão política, quando dotados de
consistência [25]. Vale dizer: as medidas restritivas
devem ser apreciadas em si mesmas, e não comparadas ao modelo que o julgador
considere ideal. Com efeito, ainda que se quisesse submeter as políticas de
cotas a um escrutínio estrito – por
introduzirem um temperamento à igualdade formal –, o papel da jurisdição
constitucional nunca é o de exercer um juízo de mera conveniência política,
substituindo-se aos agentes encarregados da decisão inicial. Em verdade, porém,
a hipótese envolve o embate entre igualdade formal e igualdade material, ambas
protegidas pela Constituição, de modo que qualquer preferência a priori seria, no mínimo, questionável.
24. Feita a ressalva, qualquer
política de ação afirmativa deverá ser, em
primeiro lugar, adequada para a promoção do objetivo a que se destina. Em segundo lugar, a medida deverá ser necessária,
sendo considerada inválida nos casos em que seja possível identificar,
objetivamente, a existência de uma alternativa igualmente adequada e
manifestamente menos restritiva. Por fim, em
terceiro lugar, a medida deverá ser proporcional, de modo que o
benefício alcançado seja relevante a ponto de justificar a restrição produzida.
Em qualquer caso, a restrição não poderá afetar o núcleo essencial dos direitos
fundamentais envolvidos [26].
25. Quanto ao requisito da adequação, há fundamentos objetivos para
se sustentar que a reserva de vagas é uma medida capaz de promover um
incremento na justiça distributiva e na diversidade, contribuindo para superar
estigmas que reservam aos negros o exercício de papeis sociais supostamente
inferiores. Experiências bem sucedidas no Direito comparado reforçam essa
conclusão. De forma sintomática, é comum que os opositores da política de cotas
não se apeguem ao argumento de que elas seriam necessariamente ineficazes como
instrumento de inclusão social, mas sim ao de que a falta de critérios
objetivos criaria o risco de novas injustiças, sobretudo contra os brancos
pobres. Essa linha de raciocínio, que se aplica unicamente às cotas por
critério racial, foi objeto de refutação no tópico anterior.
26. No plano da necessidade, discute-se a existência de
outras medidas igualmente eficazes e que importariam menor restrição para a
igualdade formal. A questão remete à observação geral enunciada acima, acerca
da necessidade de respeito às opções políticas que não sejam objetivamente
excessivas. Nesse sentido, não se questiona a existência de outras medidas que
podem contribuir para o mesmo objetivo, de que são exemplo as iniciativas para
melhorar a qualidade do ensino público e as condições de vida das populações
carentes, bem como a oferta de cursos preparatórios gratuitos e outras formas
de estímulo e ajuda específicos para esse contingente. Nada obstante a
importância de tais medidas, não parece razoável proibir o Estado de criar,
também, políticas públicas destinadas a lidar com o problema em caráter
imediato e emergencial. Nesse particular, sem nenhuma intenção de aumentar
ainda mais a temperatura da discussão, o argumento de que tais medidas seriam
paliativas e poderiam até desestimular a busca de soluções estruturais parece
recair em uma certa funcionalização das pessoas. Muitas gerações já pagaram
essa conta.
27. Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito
destina-se a verificar se há proporção aceitável entre as restrições e o nível
de proteção a direitos que resultam de determinada medida. Nesse ponto, os
críticos da política de cotas identificam a existência de restrição a diversos
dispositivos constitucionais, com destaque para a igualdade em sua dimensão
formal (art. 5º, caput e inciso I) [27] e o princípio de que o acesso aos níveis
mais elevados de ensino se dê por mérito (art. 208, V) [28]. Ambos os fundamentos são inegavelmente
relevantes e impõem limites aos critérios que podem ser adotados nas ações
afirmativas. Em termos mais concretos, não seria legítimo abrir mão da
avaliação de capacidade e preparo pessoal como critério principal para o acesso
ao ensino superior. Sem prejuízo disso, a ordem constitucional contém inúmeros
outros elementos que também devem ser levados em conta e podem justificar ações
afirmativas, incluindo políticas de cotas em patamares razoáveis.
28. Merece destaque, em primeiro lugar, o próprio princípio
da igualdade em sua dimensão material. Como referido, a Constituição impõe ao
Estado que se empenhe positivamente na construção de uma sociedade justa e
livre de preconceitos, em que todos sejam tratados com igual respeito e
consideração. Nesse ponto, aliás, o preconceito racial e as desigualdades dele
resultantes receberam especial atenção por parte do constituinte. Em segundo lugar, o princípio da
dignidade humana exige que todas as pessoas recebam tratamento que lhes permita
desenvolver sua personalidade e suas potencialidades. O status quo que exclui um enorme contingente de pessoas de
determinadas posições sociais – e, em alguns casos, da própria possibilidade de
aspirar a elas – não deve ser compreendido como um fato da vida, e sim como uma
realidade imperfeita que justifica, em linha de princípio, a intervenção
estatal.
29. Em terceiro lugar, o sistema de direitos fundamentais da
Constituição de 1988 é claramente informado pelas ideias de solidariedade e
fraternidade, associadas à percepção de que a proteção absoluta do indivíduo
atomizado não é compatível com a sociedade complexa e, em muitos casos, nem
mesmo com a proteção universal dos direitos individuais [29]. Essa lógica já se encontra amplamente
reconhecida em domínios como a proteção ao meio ambiente, a assistência social
e o direito previdenciário, em que se discute a prevalência de uma
solidariedade intergeracional. Nesse mesmo contexto e cada vez com maior
frequência, a política e o direito são chamados a regular a distribuição de
bens escassos e encargos coletivos a partir de critérios que se cruzam e se
superpõem: de órgãos para transplante à carga tributária. As vagas nas universidades
não devem ser tratadas como um nicho imune a esse tipo de consideração mais
abrangente, como se constituíssem um reino perdido de igualdade formal
incondicionada.
30. A partir de todas essas
considerações, é possível e necessário fazer uma reflexão acerca da
interpretação que deve ser atribuída ao referido art. 208, V, da Constituição,
segundo o qual o acesso aos níveis superiores de ensino e pesquisa deverá ser
franqueado segundo as capacidades de cada um. Além de constatar que esse
dispositivo constitucional não pode ser lido de forma isolada – porque nenhum
deles pode [30] –, não se impõe como óbvia a leitura
reducionista no sentido de se considerar que as capacidades individuais devam
ser entendidas tão somente como capacidades
imediatas ou já desenvolvidas. A
bem da verdade, a própria avaliação das capacidades parece pressupor que tenha
havido um mínimo de igualdade de chances, sob pena de o projeto constitucional
converter-se em institucionalização da sorte e verdadeira reserva de vagas para
os filhos do status quo [31].
Caso houvesse uma competição verdadeiramente justa desde o início, quantos
cientistas e profissionais de referência poderiam se originar dos enormes
contingentes populacionais que habitam as favelas brasileiras?
31. Isso não significa,
evidentemente, que o sentido mais literal do art. 208, V possa ou deva ser
desprezado, substituindo-se as avaliações convencionais por questionáveis
testes de aptidão ou talento em tese. O ponto é muito mais restrito e limita-se
à constatação de que esse dispositivo não pode ser tomado de forma isolada para
impedir que, ao tratar do acesso às universidades, o Poder Público adote
medidas que conciliem a lógica básica da igualdade formal – que deve continuar
sendo predominante – com providências que busquem compensar a imensa
desigualdade material existente no Brasil. A realidade brasileira atual e
inúmeros elementos constitucionais conferem suporte a essa opção, caso venha a
ser adotada pelo legislador ou mesmo pelas próprias instituições de ensino
superior que gozem de autonomia universitária [32]. E as medidas que se orientem por essa
linha deverão passar em um teste específico de razoabilidade/proporcionalidade,
sobretudo no que concerne aos percentuais adotados.
IV.
Conclusões
“As
pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a diferença as
inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade as
descaracteriza”.
32. No mundo contemporâneo, a
ideia de igualdade se realiza em três dimensões distintas. A igualdade formal veda desequiparações
arbitrárias entre as pessoas e, geralmente, será satisfeita por prestações negativas, por um não fazer:
não discriminar, não favorecer indevidamente. A igualdade material está ligada à justiça redistributiva, à oferta
de iguais oportunidades a todas as pessoas e, como regra, será promovida
mediante prestações positivas, como a oferta de educação, saúde e outras
utilidades sociais essenciais. Por fim, a igualdade
como reconhecimento está ligada ao respeito à diferença e à diversidade, aí
incluída a proteção e promoção dos grupos vulneráveis, concretizando-se
mediante ações afirmativas.
33. Políticas de cotas raciais,
combinadas ou não com critérios socioeconômicos, podem ser legítimas quando
fundadas em parâmetros razoáveis. Este é o caso dos modelos da Universidade de
Brasília e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De fato, sem violar a
igualdade formal – isto é, sem discriminar arbitrariamente –, as políticas
adotadas promovem a igualdade material e a igualdade como reconhecimento. Seu
caráter de ação afirmativa contribui para (i) a reparação de injustiças
passadas, (ii) a redução do abismo sócio-cultural que separa os setores
hegemônicos dos excluídos, (iii) o pluralismo e a diversidade, bem como (iv) o
fortalecimento da autoestima de grupos subrepresentados em posições de
prestígio e visibilidade social.
_______________
[1] Esta proposição é inspirada por
passagem encontrada em Paulo Daflon Barrozo, A idéia de igualdade e as ações
afirmativas, Revista Lua Nova 63:135,
2004, p. 135, na qual faz referência ao sistema de cotas de facto,em que as vagas na universidade são "reservadas em
monopólio àqueles que a sociedade brasileira, na distribuição que faz de bens e
oportunidades, beneficia de modo estruturalmente sistemático discriminatório
daqueles que exclui".
[3] A ADPF 186 discute o sistema
implantado na Universidade de Brasília, ao passo que o RE 597.285/RS é
referente ao modelo adotado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
[4] Joaquim Barbosa Gomes, Ações afirmativas e o princípio
constitucional da igualdade, 2001, p. 40: “Atualmente, as ações afirmativas
podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de
caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate
à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir
os efeitos presentes da concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a
bens fundamentais como a educação e o emprego”. No mesmo sentido, v. Michel
Rosenfeld, Affirmative action, justice, and equalities: A philosophical and
constitutional appraisal, In: Ohio State
Law Journal, v. 46, 1985, p. 856.
[5] CF/88, art. 5º, I: “homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”.
[6] CF/88, art. 5º, XLII: “a prática do
racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei”.
[7] CF/88, art. 5º, XLI: “a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.
[8] Joaquim Barbosa Gomes, Ações afirmativas e o princípio
constitucional da igualdade, 2001, p. 41: “Em síntese, trata-se de
políticas e de mecanismos de inclusão concebidas por entidades públicas,
privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas à
concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o da
efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito”.
[9] Sobre o tema, v. Ricardo Lobo
Torres, A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Teoria dos direitos fundamentais, 1999.
[10] V. Celso Antônio Bandeira de Mello,
O conteúdo jurídico do princípio da
igualdade, 1993 (1ª. ed. 1978), p. 11; e Carlos Roberto de Siqueira Castro,
O princípio da isonomia e a igualdade da
mulher no direito constitucional, 1983, p. 44.
[11] Luís Roberto Barroso, Razoabilidade
e isonomia no direito brasileiro. In: Temas
de direito constitucional, 2006 (1ª. ed. 1999), p. 161.
[12] Nesse sentido, analisando a
discussão no Brasil e no direito comparado, v. Cláudio Pereira de Souza Neto e
João Feres Júnior, Ação afirmativa: normatividade e constitucionalidade. In:
Renato Ferreira (coord.), Ações
afirmativas – A questão das cotas, 2011, p. 38.
[13] Adilson José Moreira, Igualdade
formal e neutralidade racial: retórica jurídica como instrumento de manutenção
das desigualdades raciais, Revista de
Direito do Estado 19-20:293, 2010, p. 296: “Nada no nosso ordenamento
jurídico impede o tratamento diferenciado entre pessoas quando se pretende
erradicar a exclusão social. Diferenciações jurídicas entre pessoas também não
podem ser justificadas apenas como um desvio circunstancial do princípio da
universalidade das normas jurídicas. A implementação de políticas públicas
voltadas para a promoção de emancipação social encontra fundamentação no
conjunto de princípios abrigados pelo sistema constitucional. O nosso texto
jurídico fundamental tem como objetivo principal a criação de uma sociedade
igualitária na qual impera o princípio da justiça social. O intérprete deve
também considerar a constitucionalidade da norma em questão a partir da
avaliação da existência de uma congruência entre o ato governamental e a
situação material do grupo social específico. A implementação de políticas
públicas que procuram erradicar a marginalização social dos afrodescendentes
tem, portanto, ampla fundamentação constitucional”.
[14] O argumento de promoção da
diversidade como política pública legítima tem sido determinante na
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, em decisões que confirmaram
a validade de se utilizar critérios raciais como fator de desequiparação entre
candidatos a vagas no ensino superior, ainda que de forma não exclusiva. Nessa
linha, v. Suprema Corte dos Estados Unidos, Grutter
Vs. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003).
[15] Para uma crítica sistemática ao
argumento da existência de uma democracia racial no Brasil, v. Adilson José
Moreira, Igualdade formal e neutralidade racial: retórica jurídica como
instrumento de manutenção das desigualdades raciais, Revista de Direito do Estado 19-20:293, 2010, p. 322-328.
[17] Petição inicial da ADPF 186, subscrita
pela Dra. Roberta Fragoso Menezes Kaufmann: “E é nesse sentido que deve ser
compreendida a importância da fixação do mito da democracia racial no
consciente coletivo brasileiro. Desse modo, o mito servirá como freio na
conduta humana, fixando o paradigma do comportamento que se espera do homem
médio e o modelo da atitude e das reações que devem ser tomadas e seguidas”.
[18] Vale ainda o registro de que o mito
da democracia racial pode servir para acobertar relações de dominação e
subordinação, muitas vezes internalizadas pelas próprias vítimas como inerentes
a seu suposto papel social. Nessa
linha, v. Daniel Sarmento, Direito constitucional e igualdade étnico-racial.
In: Renato Ferreira (coord.), Ações
afirmativas – A questão das cotas, 2011, p. 80: “Ora, também no Brasil, a
internalização da naturalidade da subordinação do afrodescendente compromete a
capacidade de visualização da opressão racial. E este fenômeno não ocorre
apenas no âmbito das consciências individuais, mas também no espaço das
interações sociais, sendo agravado em nós pela persistência do mito nacional da
democracia racial. Assim, a discriminação torna-se opaca, e a prova da intenção
discriminatória dificílima de ser produzida”.
[19] O ponto foi identificado com
clareza na manifestação da Procuradoria Geral da República, fl. 729 dos autos:
“Já tem mais de uma década a introdução das primeiras políticas de ação
afirmativa focadas em critério racial, e não houve, até o momento, qualquer
episódio sério de tensão ou conflito racial no Brasil que possa ser associado a
tais medidas”.
[20] Petição inicial da ADPF 186,
subscrita pela Dra. Roberta Fragoso Menezes Kaufmann: “Defende-se nesta ADPF
que, no Brasil, ninguém é excluído pelo simples fato de ser negro,
diferentemente do que aconteceu em outros países, como nos Estados Unidos e na
Árica do Sul. Aqui, a dificuldade de acesso à educação e a posições sociais
elevadas decorre, sobretudo, da precária situação econômica, que termina por
influir em uma qualificação profissional deficiente, independentemente da cor
da pele. Infelizmente, no Brasil, os negros são as maiores vítimas do fenômeno
da desigualdade social: dados do PNAD/IBGE (2001) demonstram que
aproximadamente 70% dos indigentes no Brasil são negros, e, dentre os pobres, a
proporção de negros é de 64%”.
[21] Esse ponto foi destacado por alguns
dos participantes da audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal.
A título de exemplo, sustentando que os dados disponíveis confirmam a
existência de desequiparações entre brancos e negros que se encontram em
posições similares, vejam-se os seguintes trechos da declaração proferida pelo
Dr. Mário Lisboa Theodoro, Diretor de Cooperação e Desenvolvimento do IPEA –
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: “Então, nos deparamos inicialmente
com dados, números, sobre a desigualdade racial no Brasil, que são números
contundentes. Por exemplo: um trabalhador negro ganha em média metade do que um
trabalhador branco ganha; o percentual de negros abaixo da linha de
indigência é duas vezes e meia maior do que o percentual de brancos; a
população negra pobre é quase setenta por cento dos pobres; a população negra
indigente é setenta e um por cento do total de indigentes neste País. Essa
desigualdade também pode ser mostrada por outros números, os números sobre a
questão do estudo. Já foi falado aqui pela secretária Maria Paula sobre a
diferença entre população negra e branca, mas eu gostaria de ressaltar
principalmente o último dado que nós temos sobre crianças fora da escola de
sete a quatorze anos. De um total de quinhentas e setenta e uma mil crianças,
sessenta e dois por cento são crianças negras. (...) Eu gostaria de mostrar
também que disso tudo – eu não vou me alongar nesses dados, pois já foram
falados aqui – duas coisas me parecem importantes: primeiro, qualquer
que seja a variável que peguemos, sempre a situação do negro é de inferioridade
em relação ao branco, qualquer que seja a variável, e uma inferioridade
significativa”.
[22] Como observa Nancy Fraser, a
discriminação de determinados grupos gera, na prática, sua subordinação,
impedindo que participem da vida social como "parceiros plenos". Essa
discriminação pode dizer respeito à distribuição (econômica) dos bens ou ao
reconhecimento (cultural) de determinados grupos e, muitas vezes, uma gerará ou
alimentará a outra. Mas isso não afasta a relativa autonomia de suas causas. Os
negros ricos, por exemplo, não são isentos de racismo, ainda que venham a
sofrê-lo de formas diferentes. Por essa razão, a autora defende uma concepção
de justiça mais ampla, que exige não apenas redistribuição
como também reconhecimento. Seu
objetivo final é construir a paridade da
participação dos membros da sociedade, o que somente se atinge com a
satisfação cumulativa de duas condições: uma, objetiva, relacionada à distribuição dos recursos materiais, que
deve ser tal que garanta a independência e o "direito à fala" dos
participantes (redistribuição); a outra, intersubjetiva,
exige que “os padrões institucionalizados de valor cultural expressem respeito
igual para com todos os participantes e assegurem oportunidade igual para
alcançar estima social (reconhecimento)”. V. Nancy Fraser, Reconhecimento sem
ética? In: Jessé Souza e Patrícia Mattos (orgs.), Teoria crítica no século XXI, 2007, p. 117 e ss.
[23] STF, DJ 19 mar. 2004, HC 82.424/RS,
Rel. originário Min. Moreira Alves, Rel. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa:
“(...) Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do
genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja
pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer
outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie
humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são
todos iguais. 4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta
de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto
origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito
segregacionista (...)”.
[24] Parecer da Procuradoria Geral da
República, fl. 730 dos autos: “Nesse ponto, cabe destacar, preliminarmente, que
o standard de controle adotado pelo
STF na análise da medida deve ser flexível e reverente às opções adotadas pelos
órgãos que elaboraram as normas impugnadas. Com efeito, um dos papéis mais
importantes da jurisdição constitucional é a proteção das minorias
estigmatizadas, diante do arbítrio das maiorias instaladas nos poderes políticos.
Nessas situações, os instrumentos da democracia majoritária tendem a falhar, o
que justifica um maior ativismo judicial, em proteção dos grupos mais
vulneráveis. Porém, quando o Judiciário se depara com normas e medidas que
visam a favorecer grupos minoritários e hipossuficientes, a sua postura deve
ser deferente. Se outros órgãos estatais empenham-se em promover um objetivo
constitucional de magna importância, que é a inclusão efetiva de minorias
étnicas no ensino superior, não deve o Poder Judiciário frear-lhes as
iniciativas, convertendo-se no guardião de um status quo de assimetria e opressão, a não ser quando haja patente
afronta a normas ou valores constitucionais”.
[25] Sobre o tema, destacando a
necessidade de autocontenção por parte do Poder Judiciário, em maior ou menor
intensidade, v. dentre outros, Aharon Barak, The judge in a democracy, 2006, p. 248: Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional
contemporâneo, 2011, p. 261; e Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 2008, p. 168 e ss.
[26] Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade
jurisdicional, 2005, p. 141: “(...) não se pode admitir que conformações ou
restrições possam chegar a esvaziar o sentido essencial dos direitos, que,
afinal, formam o conjunto normativo de maior fundamentalidade, tanto
axiológica, quanto normativa, nos sistemas jurídicos contemporâneos. Nesse
sentido, o núcleo deve funcionar como um limite último de sentido,
invulnerável, que sempre deverá ser respeitado”.
[27] CF/88, art. 5º: “Art. 5º Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição; (...)”.
[28] CF/88, art. 208: “Art. 208. O dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;”.
[29] Essa linha de argumentação foi
suscitada na decisão que negou a medida cautelar requerida na ADPF 186,
proferida pelo ministro Gilmar Mendes, então no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal: “No limiar
deste século XXI, liberdade e igualdade devem ser (re)pensadas segundo o valor
fundamental da fraternidade. Com isso quero dizer que a fraternidade pode
constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução
dos principais problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e
igualdade. (...) Nesse contexto, a tolerância
nas sociedades multiculturais é o cerne das questões a que este século nos
convidou a enfrentar em tema de liberdade e igualdade. Pensar a igualdade segundo o valor da fraternidade significa ter em
mente as diferenças e as particularidades humanas em todos os seus aspectos. A
tolerância em tema de igualdade, nesse sentido, impõe a igual consideração do
outro em suas peculiaridades e idiossincrasias. Numa sociedade marcada pelo
pluralismo, a igualdade só pode ser igualdade com igual respeito às diferenças.
Enfim, no Estado democrático, a conjugação dos valores da igualdade e da
fraternidade expressa uma normatividade constitucional no sentido de
reconhecimento e proteção das minorias” (negrito acrescentado). No mesmo
sentido, referindo-se expressamente a decisão do ministro Gilmar, v. Boaventura
de Souza Santos, Justiça social e justiça histórica. In: Renato Ferreira
(coord.), Ações afirmativas – A questão
das cotas, 2011, p. 33-5.
[30] Acerca da necessidade de que os
dispositivos constitucionais sejam interpretados à luz de todo o sistema no
qual estão inseridos, utilizando a imagem de que a Constituição não pode ser
interpretada em tiras, v. Eros
Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a
interpretação/aplicação do Direito, 2003, p. 40.
[31] Joaquim Barbosa Gomes, Ações afirmativas e o princípio
constitucional da igualdade, 2001, p. 62: “A Justiça compensatória teria,
assim, uma natureza iniludivelmente restauradora, na medida em que, segundo
Coleman (COLEMAN, Jules. Law &
philosophy, 1983), se trataria simplesmente de pôr em prática os postulados
da Justiça, não porque se promova justiça na distribuição de bens, mas porque
se remediam as injustiças no ponto de partida inicial da distribuição de
vantagens e benesses”.
[32] Por se tratar de política que visa
a realizar, de forma direta, o princípio da igualdade em suas duas dimensões,
entendo que as próprias universidades podem introduzir programas de ação
afirmativa em geral, e de reserva de cotas em particular. Como é natural, tais
medidas estarão sujeitas a controle de sua legalidade – caso haja lei
pertinente que seja aplicável à hipótese – e também de sua constitucionalidade.
Sobre a possibilidade de que atos administrativos busquem fundamento direto na
Constituição, v. STF, DJe 17 dez.
2009, ADC 12, Rel. Min. Carlos Britto: “(...) Os condicionamentos impostos pela
Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e
desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes
do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela
Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade,
da eficiência, da igualdade e da moralidade (...)”.
[33] Boaventura de Souza Santos, As tensões da modernidade. Texto
apresentado no Fórum Social Mundial, Porto Alegre, 2001.
Luís
Roberto Barroso é advogado, professor titular de Direito
Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre em
Direito pela Universidade de Yale. Doutor e Livre-docente pela UERJ. Professor
Visitante da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de Poitiers
(França) e Universidade de Wroclaw (Polônia). Visiting Scholar, Universidade de
Harvard (2011).


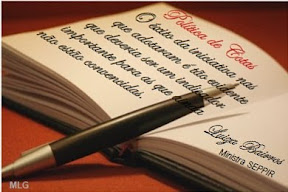

























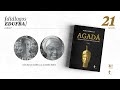





Nenhum comentário:
Postar um comentário